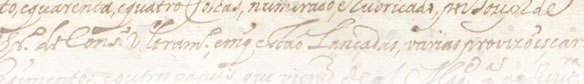|
Artigo publicado na edição nº 11 de junho de 2006.
FARNESE:
a alegria difícil
André Luiz de Araújo
No texto “Hábitos Estranhos”, Charles Cosac diz que “[...] na obra de Farnese de Andrade, em que a narrativa autobiográfica predomina, o exercício ocorre numa área volátil, frágil e arenosa [...]”[*1]. Nesse sentido, iniciaremos apresentando algumas informações sobre o artista, que julgamos necessárias, como chave de entendimento para suas obras.
Farnese de Andrade nasceu em Araguari, interior de Minas Gerais, em 1926. Não completou o secundário. Aos dezenove anos, matricula-se na Escola do Parque, Belo Horizonte, tendo como professor de desenho Alberto da Veiga Guignard, um dos maiores expoentes da pintura brasileira do século XX. Três anos depois, muda-se com a família para o Rio de Janeiro e começa a trabalhar como ilustrador para publicações como O cruzeiro, Manchete e Correio da manhã.
Amigo e admirador de artistas do grupo neoconcreto, como Ivan Serpa e Almir Mavigner, Farnese passa intencionalmente ao largo do movimento. Opta por prosseguir sua pesquisa individual, rejeitando a idéia de uma arte explicitamente teórica. Nessa época, conhece o crítico Jayme Maurício, de quem recebe ajuda e orientação. Em 1964 realiza seu primeiro, A grande alegria. Em 1965, retoma o desenho, criando duas séries: Eróticos e Obsessivos.
De 1952 a 1964, o artista participa diversas vezes do Salão Nacional de Arte Moderna e da Bienal de São Paulo. Em 1968, juntamente com Lygia Clark e Anna Letycia, representa o Brasil na Bienal de Veneza. De 1969 a 1975, passa a viver em Barcelona graças ao prêmio viagem concedido pelo XIX Salão Nacional de Arte Moderna.
A primeira exposição de objetos, montagens e desenhos ocorre em 1966, na carioca Petite Galerie, de Franco Terra Nova. A partir dessa data, Farnese divide seu tempo entre os desenhos e a criação dos objetos, estes configuram a sua grande descoberta. Dedicou os últimos anos de vida à produção obsessiva desses objetos, ora ao desenho, por prazer, ora à pintura, por necessidade.
Embora tenha exposto em Belo Horizonte poucos meses antes de sua morte, Farnese vivia quase em clausura, interrompida esporadicamente por exposições que se alternavam entre a Galeria Anna Maria Niemeyer e a Galeria São Paulo. Em 1970, Olívio Tavares de Araújo realiza, com singular virtuosismo o curta-metragem Farnese, primeiro registro sério sobre o artista.[*2]
Na arte contemporânea, a subjetividade do artista compõe a criação, que levada à dimensão do sensível é transformada em poética pensante, assim sendo material vital para construção de sua obra. No caso de Farnese, podemos registrar sua infância marcada pela morte dos irmãos, pelas suas crises de tuberculose, pelo seu horror a crianças, pela sua herança mineira, pela sua homossexualidade, pelas suas depressões, pela sua solidão e pelos conflitos com seus pais. O curador Charles Cosac escreve que “[...] ele dizia que os nove meses de gestação eram o hotel mais caro do mundo, e que se pagava pelo resto da vida. Dizia também que o momento que mais sofreu foi quando viu o pai morto no caixão.”[*3]
Para Suely Rolnik, o artista contemporâneo vai além não só dos materiais tradicionalmente elaborados pela arte, mas também de seus procedimentos (escultura, pintura, desenho, gravura etc.). Ele toma a liberdade de explorar os materiais mais variados que compõem o mundo e de inventar o método apropriado para cada tipo de exploração[*4]. Ele lança a subjetividade na obra.
A técnica de colagem dos objetos desenvolvida pelo artista é entendida nessa pesquisa como uma arqueologia do presente, ou seja, a obra é feita de material orgânico capturado do mar, de objetos encontrados no lixo, de dejetos produzidos pela sociedade de consumo e, posteriormente, aprisionados em caixas de vidros e atomizados em poliéster (resina).
Para o crítico de arte Frederico Morais, com esses objetos à mão, Farnese exercita sua memória, exorciza fantasmas, extravasa sentimentos, viabiliza sonhos, concretiza obsessões, revela recalques e repressões. Denominado por Frederico Morais como artista da corrente arqueológica da arte contemporânea, ou seja, da arqueologia existencial, sua matéria prima essencial é o tempo. O tempo que se revela nas matérias erodidas e carcomidas[*5].
É nas escavações que o arqueólogo se realiza, é na descoberta da história enterrada que se constrói o sentido da vida. E o homem encontrado pelo artista está decomposto. É o anuncio do puro desmanche da figura humana, da natureza e da vida. A figura humana representada na obra de Farnese em forma de “boneca”[*6] remete-nos ao dualismo entre o que é orgânico e o que é morto. A construção perturbadora do artista faz pensarmos o homem como mercadoria contemporânea (coisa, mercadoria e ser).
Nas obras “O anjo de Hiroshima” [1968-1978]; “Hiroshima” [1966-1972]; “Hiroshima” [1970], o material usado para compor as assemblages são bonequinhos e bebês de plástico incinerados, boneca de porcelana, ovo de madeira, caixa de madeira, tampo de vidro, resina, placa de alumínio e oratório. Sabemos que o bombardeio na cidade de Hiroshima no Japão ocorreu na manhã do dia 6 de agosto de 1945. O Enola Gay, um avião-bombardeio B-29 especialmente adaptado pelos americanos, levava em seu interior uma bomba de urânio, batizada com o nome aparentemente inocente de Little Boy. Para os habitantes de Hiroshima era como se subitamente tivesse chegado a hora do Juízo Final. As pessoas que se encontravam nessa área foram instantaneamente incineradas pelo calor de milhares de graus Celsius[*7].
Mais qual interesse de Farnese em resgatar, décadas depois, esse fato histórico e transformá-lo em obra? Provavelmente o mesmo interesse que o pintor Siron Franco teve não retomar a tragédia radioativa que assolou Goiânia, o vazamento do Césio-137. Em 1987, Siron Franco produziu uma série de trabalhos que problematizavam as dimensões da catástrofe que se abatera sobre a cidade e principalmente sobre o bairro onde vivera sua juventude. Assim, acreditamos que, na obra de Farnese, a figura humana seja sua maior preocupação. A dimensão levada por Farnese chega a ser universal. Depois da Segunda Guerra, continuaria a Guerra Fria no mundo e as ditaduras na América Latina. Esse estado de Exceção, essa atmosfera opressiva reverberou em Farnese, revelando o grande desencanto com a humanidade. Esses conflitos obrigariam o artista a remapear os sentidos. Isso significa que o poder de criação do artista se deslocaria do campo da representação para o campo da realidade. Farnese sentiria a necessidade de lembrar através da sua poética do estranhamento o ser sobrevivente.
No mesmo ano da criação das assemblages, 1968, Farnese pinta a série “Fecundação”, composta por quatro quadros, essa série trata das etapas biológicas da procriação humana: o ato sexual (homem e mulher); a fecundação (esperma e óvulo); o embrião e o feto humano. Essa fase do artista revela-nos um otimismo para com o futuro da humanidade.
Em seu texto “A grande alegria”, escrito em 1976, Farnese mostrava-se preocupado com a sobrevivência. Falava-se da temida hecatombe atômica. Ele dizia:
Por que, aos que sobrevivem, será necessariamente degenerescente essa mutação? Por que não evolutiva? Um fio de esperança para quem não crê em sistemas políticos para melhorar a humanidade. O que tem de se aperfeiçoar em primeiro lugar é o homem. Estamos aí para testemunhar a existência das ditaduras de direita ou de esquerda, caso da soviética, e nos desenganarmos com seus equívocos, com sua violência, com a absoluta falta de respeito ao direito do ser humano poder ser o que deseja, pensar como quer, e proclamar bem alto isso.[*8]
Quando Clarice Lispector declarou, em seu livro A paixão segundo G.H. , para seus possíveis leitores que a personagem G.H. foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chamada alegria, é compreensível entender historicamente as palavras de Benjamin, que já em 1933 havia diagnosticado com precisão essa “pobreza de experiência” da vida moderna. A matéria-prima da experiência em Lispector dá-se na linguagem, nesse caso, no significado da palavra alegria e seu valor literário explodido em nossa contemporaneidade. Como se a dor, a solidão, a transformação fossem capazes de exorcizar os fantasmas de cada um. Textos em mutação, as narrativas de Lispector sublinharam a precariedade e o nomadismo da consciência e da existência, entre as aleluias e as agonias do ser.
Cumplicidade de espíritos movidos pela inquietude da modernidade, temos os tormentos da vida postos nas obras de Clarice Lispector e Farnese de Andrade como elementos fundamentais da alegria contemporânea.
Em entrevista ao jornal Ultima Hora, de 2 de maio de 1976, Farnese declarou que o ato de criação era um exercício de grande alegria. Para ele, a alegria estava em juntar, em montar e em formar um objetivo. A criação era um ato egoísta. Quando trabalhava, trabalhava para si. Se afetasse as pessoas, mal ou bem, isso para ele era secundário.
O crítico e historiador da arte Rodrigo Naves, no texto “A grande tristeza”, busca no antagonismo o sentido de alegria para o artista, no entanto, em Farnese, essa relação é necessariamente paradoxal. No sentido benjaminiano[*9], sua obra remete-nos a pensar numa nova forma de miséria que surge com esse desenvolvimento de técnica de justaposição, nessa colagem de tempos, sobrepondo-se ao homem contemporâneo. Em Farnese, a poética do estrahamento fica entre a morbidez e a sobrevivência.
Na reflexão de Rodrigo Naves,
Farnese praticamente só recorria às coisas velhas, marcadas pelo uso ou pelo tempo. Ou então a artefatos rudimentares, objetos e imagens toscos: gamelas, ex-votos, oratórios populares. Eram objetos que o contato prolongado com os homens havia coberto de afeto e arredondado as arestas. Ou então cujas formas pouco elaboradas remetiam diretamente às mãos pouco hábeis mas fervorosas que os realizavam. As características altamente pessoais das peças com que o artista trabalhava acabavam por se transmitir às obras que o criava. E os arranjos, deslocamentos e montagens a que os submetia pareciam converter esse aspecto pessoal dos elementos que entravam em suas obras em índices de algo ainda mais pessoal – biográfico, digamos. Porque sua intervenção sobre eles conduzia à obtenção de construções singulares a partir de componentes já altamente individualizados.[*10]
Em 1966, o crítico de arte Jayme Maurício[*11] chamava-o de Joseph Cornell brasileiro, no entanto, Farnese estava além do seu tempo e não foi compreendido pelos seus pares. Como disse Tadeu Chiarelli, Farnese poderia muito bem ser alinhado aos jovens artistas surgidos no final dos anos de 1980 e 1990. Chiarelli ainda acrescenta, “[...] somente em produções como aquelas do último José Leonilson, de Rosângela Rennó, Nazareth Pacheco, Rosana Monnerat, Elias Muradi, Sandra Cinto, Iolanda Gollo Mazzotti e tantos outros, notam-se os mesmos elementos narrativos que enformaram as obras de Farnese de Andrade: repressão de todos os matizes, dor, solidão, castração.[*12]
No fim de 1973, Farnese volta da Europa. Doze dias depois de ter chegado, cai numa depressão psíquica inexplicável. Diz o artista “[...] só quem sofreu essa doença sabe a diferença entre ela e uma simples fossa existencial. É de uma violência atroz, talvez o primeiro passo para a esquizofrenia.”[*13]
O transtorno bipolar de Farnese permitiu que sua obra comunicasse simultaneamente com o são e com insano, transitasse na superfície e na profundidade do ser e do nada, como algo pleno. Assim como no mito grego em que Ariadne através de um fio conduz o caminho de Teseu pelo labirinto do Minotauro, as obras de Farnese levam-nos à obscuridade humana para sentirmo-nos mais humanos.
Referências bibliográficas
ANDRADE, F. A grande alegria. In: COSAC, C. Farnese: Objetos. São Paulo: CosacNaify, 2005.
BENJAMIN, W. Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994.
CHIARELLI, T. Farnese de Andrade no MAM. Revista do MAM, São Paulo, n. 2, dez. 1999.
COSAC, C. Farnese: Objetos. São Paulo: CosacNaify, 2005.
DIAS JR, J. A.; ROUBICEK, R. O brilho de mil sóis. São Paulo: Ática, 1994. (Col. História em Movimento).
LISPECTOR, C. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
MAURÍCIO, J. Desafios aos artistas: a estética da caixa. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10 nov. 1996.
MORAES, E. R. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2002.
MORAES, F. Farnese de Andrade: transparências, opacidades. Revista do MAM, São Paulo, n. 2, dez. 1999.
NAVES, R. Farnese de Andrade. São Paulo: CosacNaify, 2002.
ROLNIK, S. Subjetividade em obra: Lygia Clark, artista contemporânea. In: Revista Projeto História, São Paulo, n. 25, 2002.
|
|
|