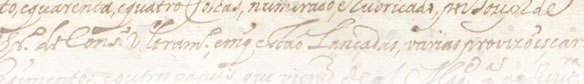|
Artigo publicado na edição nº 5 de Setembro de 2005.
Quem agüenta esses baianos? Desfazendo preconceitos sobre a história do Brasil: trabalho, migração e lutas sindicais
Antonio Luigi Negro
“Quem agüenta esses baianos”?, desabafou um operário e militante da Pirelli, firma metalúrgica de Santo André. No ABC paulista – onde se construiu, nos anos 1950, nossa indústria automobilística –, esse ativista e seus companheiros, várias vezes, recorreram à origem rural de grande parte de seus colegas para explicar as dificuldades de relacionamento entre os sindicatos e suas bases. Segundo o que se costumava dizer, quando não havia luta e esclarecimento, é porque nos faltavam os imigrantes (aquela ilusória italianada anarquista e rebelde).
É um equívoco a associação entre origem rural e apatia, concluindo-se, em seguida, que o povo brasileiro não presta, assim nos faltando os imigrantes, que seriam conscientes e radicais. Neste artigo, vamos duvidar dessa visão e buscar uma outra, mais complexa e alternativa. Se consultarmos os arquivos das polícias, encontraremos importantes elementos para formular essa outra visão, bem distinta da praxe, na qual os trabalhadores saem carregando a carga e a culpa.
Para isso, vamos examinar alguns episódios referentes às greves dos anos 1950 e 1960. Por causa da abertura de milhares de empregos a uma mão-de-obra sem experiência industrial, nelas sobressai um novo operariado (vindo de várias regiões do país), no qual também figuravam os mais febris trabalhadores do parque automobilístico do ABC, e que, assim, surpreendiam os descrentes na “queima de etapas” de JK.
Exatamente por isto os que chegavam podiam inquietar também os grupos operários mais antigos, na medida em que disputavam não só um lugar no mercado de trabalho, mas também formavam suas comunidades (em novos bairros em construção). Da parte dos que já residiam na área, os estranhamentos eram marcados pelo orgulho étnico e profissional dos descendentes dos imigrantes, os quais, em geral, assentavam na qualificação do ofício o pré-requisito para a dignidade operária e a ação política. Estabelecidos há tempos em usinas têxteis, gráficas, químicas, moveleiras e metalúrgicas, eram uma base expressiva do sindicalismo. A partir de 1955, bem junto dessas usinas, surge – acelerada e grandiosa – uma indústria automobilística.
A partir de cima – ou mesmo por quem estava ao lado – os migrantes foram vistos como “atrasados”. A depreciação do linguajar, o desfavorecimento instrucional e o preconceito contra suas práticas curativas e religiosidade (taxadas de crendices) os acantonava sob o rótulo de “baianos”. Pertencer a tal grupo podia ser um qualificativo degradante. Mas baiano não era, na verdade, apenas o natural da Bahia. Era o subalterno, várias vezes não-branco. Era, também, aquele cujo labor torna calejada a mão, aquele que tem a infelicidade de suar trabalhando. O sindicalista Philadelpho Braz foi uma vez atacado, numa fábrica, com o xingamento de “tijolo mal queimado”, por ser filho de pai baiano e mãe ítalo-brasileira.
Os migrantes, mesmo assim, abriam brechas que expunham o valor de suas origens, conferindo, em acréscimo, um sentimento de honradez à sua faina sofrida. De fato, quanto mais examinamos o seu modo de vida, mais inadequadas nos parecerão as noções de progresso e atraso. Habituados ao trabalho duro, às exigências da atividade agropastoril, a levar e trazer recados, versados numa gama de serviços vários, a fábrica automobilística, por ser mais inovadora, lhes reservava tarefas para as quais dispunham de preparação. Nas entrevistas, contam-se histórias em que suas mãos dão “jeitos” e criam “macetes”, inventando formas de agir, produzir e união.
Vendo a história por esse ângulo, enxergaremos aspectos notáveis, mas às vezes menosprezados. Por exemplo, prestar favores é uma prática bancada por quem está em cima, aproveitando-se das agruras de quem está embaixo. A contrariedade dos industriais com o projeto de lei do 13o salário refletia, como veremos a seguir, o seu apego a um indisputável arbítrio patronal, que não prestava contas ao domínio das lei trabalhistas, revestindo os direitos dos operários com o ar de concessão generosa do patrão.
No final de 1960, um comunicado da polícia política paulista registra que, em diversas fábricas, ante “a conquista do abono de Natal, ainda que não esteja regulamentado por lei (embora conste na Constituição)”, o Partido Comunista Brasileiro decidira regular “as lutas nesse sentido”. Logo, para o início de 1961, não se programavam greves gerais nem demonstrações de rua. Antes, se aguardavam “greves brancas”, feitas nas fábricas, para evitar choque com a polícia. Mesmo assim, uma greve fabril exigia propósitos e energia. Isto porque seu rival – uma aliança entre policiais, empresários, diplomatas, políticos e militares – não dispensava a espionagem e a coerção.
Uma dessas greves aconteceu na temível Laminação Nacional de Metais (LNM), que se valia de vigilantes armados, sendo por isso quase impossível de parar. Junto, emerge outro personagem amedrontador, o elo da repressão interna com a repressão externa: o Dops. Mas, dessa vez, quase surraram o agente em serviço, haja vista sua fracassada tentativa de capturar um trabalhador, levando-o ao escritório da firma. Ao agente foi de encontro um cordão de operários, os quais marchavam para a forra. Nada grave ocorreu, graças à intervenção de um líder, chamado de “comunista”.
Das greves gerais dos metalúrgicos cariocas em 1955 e 1957, os operários da Fábrica Nacional de Motores não participaram. Porém, em de março de 1961, eles finalmente suspenderam o serviço, reivindicando cumprimento de promessas e repartição dos lucros. Apesar do isolamento (a fábrica tinha vila operária e ficava longe das demais), a distância que separava o sindicato desta base parecia finalmente percorrida: numa reunião, os trabalhadores evocaram a criação de uma delegacia sindical. Exultante, o jornal Novos Rumos noticia o aparecimento de novos líderes, “muitos deles oriundos da lavoura”.
Ao som de um silvo, os trabalhadores da General Motors de São Caetano fizeram uma pequena parada em 24 de outubro. Estavam atentos a uma mesa-redonda entre patrões e empregados. A empresa solicitou policiamento, mas a greve eclodiu na seqüência. Duas passeatas, segundo um relatório da polícia, mostraram a que viera a paralisação. No dia seguinte, o Tribunal Regional do Trabalho propôs que os patrões dessem 20% de reajuste e garantissem o pagamento das 48 horas semanais. Em assembléia, a greve foi mantida por aclamação, medida reforçada pelos piquetes do dia 27. No sábado, 80 funcionários dos escritórios retornaram. Este número depois subiu para 650, apresentando-se ainda 40 operários. No dia 31, mil e cem funcionários iam aos escritórios e 400 operários, à produção, mas só uma minoria reapareceu em 1o de novembro. Contra a pressão patronal, o movimento resistia.
Podemos nos inteirar também de outras ações. Em ato na Praça Primeiro de Maio, os oradores elogiaram a iniciativa, caso de Luiz Tenório de Lima, o Tenorinho, que concitou os operários a apoiarem o projeto do 13o. O deputado Luciano Lepera criticou aqueles que, nas eleições, votavam com “sentimentalismo”. Para ele, isso acontecia porque determinado deputado ou senador viviam de prestar favores. No seu entender, o povo devia “acabar com esse sentimentalismo, votando em operário” (conforme anotou, preocupado, um policial). Resultado dessas e outras atitudes, O Estado de São Paulo noticiou: “acordos evitaram as greves”.
Surge o chamado de greve geral, para 13 de dezembro de 1961. Um panfleto reclama: “nas gavetas da Câmara Federal, desde 1959, dorme um projeto de lei”: o da consagração do abono de Natal em 13o salário. Em 7 de dezembro, o general Edmundo de Macedo Soares fez uma visita ao sindicato a que pertencia a firma que ele representava, a Mercedes-Benz. Ele ficou sabendo que a Willys-Overland e a Simca se dispunham a atender, integralmente, a paga do abono. Scania-Vabis e Vemag entrariam com pagamentos parciais ao passo que Volkswagen e Ford queriam conceder valores reduzidos. Como se vê, a fama de bom pagador nem sempre é um ato voluntário.
Na véspera da greve, circulam rumores sobre alvoroços na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp): os patrões haviam resolvido se manifestar contra o crédito natalino. Certas falas, pronunciadas em assembléia, exortaram à sublevação contra o presidente Jango: “para defendermos nossos interesses, iremos até o ato de completa rebeldia”, registrou o investigador do Dops. Outros disseram que não mais confiavam no Governo Federal ou no Congresso. Suas esperanças estavam, por conseguinte, depositadas no então governador de São Paulo, Carvalho Pinto, e no Exército. O governador não decepcionou, e o Exército não precisou intervir, pois ainda não era a hora.
A Secretaria de Segurança de São Paulo armou um plano considerado o maior até então. Os delegados incumbidos do comando agiriam com o máximo de energia visando a dissolver os piquetes e a efetuar a prisões. Assim, se puseram à frente de aproximadamente 12 mil homens, algumas dezenas de novas viaturas e cerca de cem radiopatrulhas. Mas por que tanto empenho em confrontar os piquetes?
Desde a Greve dos 300 mil, as lutas dos trabalhadores se valiam dos piquetes para expressar os laços de unidade vigentes em suas rodinhas, comitês e ajuntamentos, assim como em outras formas de associação – estendidas pelos bairros e os mais variados clubes não-sindicais. Em certas ocasiões, os piquetes atemorizavam os observadores e eram chamados de esquadrões voadores; em outras, evoluíam como incontido carnaval. Desfilavam carros de som, se ornavam com estandartes – dos sindicatos e da pátria brasileira –, eram comandados por “chefes” e prestigiados por “amigos”. Estes últimos podiam ser militares de linha nacionalista e lideranças trabalhistas que iam à frente, como um abre-alas para mitigar as animosidades dos pelotões de choque e das guardas e chefias das firmas.
A prestação de amizade servia, em segundo lugar, para garantir que o piquete não era coisa de arruaceiros, reforçando sua auto-imagem de clareza de objetivos. Durante a Greve dos 400 Mil, em 1957, os generais Gentil Falcão e Porfírio da Paz foram taxados de “clowns” pela polícia. Gentil Falcão “representava o papel de ‘quebra-galho’ dos grevistas frente ao policiamento”, reclamou o Dops. Quando praças e oficiais investiam contra os piqueteiros, o general se identificava, forçava-os à “posição desagradável” de bater continência e arrancava “sorrisos maliciosos” dos trabalhadores.
Essas e outras escaramuças – pau contra cassetete, pedras contra jatos d’água, multidão contra cavalaria, chacotas contra ordens, piquete contra pelotão – davam às greves a nada sisuda cara de um movimento de massas. Maltas de gente nada branca, na posse de suas questões próprias, além de seus recursos corporais – a força e a raça –, exibiam sua valentia e disposição, provocando medo e ojeriza em seus oponentes, mas angariando apoio nas chamadas “ordens baixas”. Aos gritos de “Fecha!”, se tornavam senhores das vias e punham a polícia para correr.
No dia 17 de outubro de 1957, um piquete sai de Santo André para São Caetano, passando por várias fábricas. Engrossando-se com adesões, ecoa espectro amedrontador, fechando as firmas. Com autocontrole – sem “agir com depredações” (segundo um policial) –, foi observado um choque na Lidgerwood, onde marretaram um guarda (quando este atacou). Nota de insucesso, na LNM, a multidão tenta se impor, mas é impedida por piquetes da Força Pública.
À tarde, um segundo piquete parte da Vila Prudente. O investigador no seu encalço presumiu que era integrado por nortistas, talvez por causa do grande alarido com que fechavam as usinas ¾ que o policial ouviu e notou. Nas ruas e nos ajuntamentos a liberdade, conquistada mediante conflito, e com peculiares interjeições.
Greves como as que vemos aqui revelam um outro aspecto notável: os novos personagens em cena. Também evidenciavam mundos do trabalho erguidos a partir de baixo, com suas forças e iniciativas e, ainda mais, a partir de dentro da fábrica, tomando as ruas e mostrando seu poder. Hábil em circular mensagens e idéias entre as rodinhas ajuntadas nas praças dos “marmiteiros” e as fileiras dos “peões” dispostos nas linhas de montagem, a astúcia e autodefesa dos operários os faziam independentes o bastante para deixá-los alheios – ou para exporem sua vontade – defronte a pretensos senhores e representantes, inclusive diante dos “companheiros”.
Encontramos assim pessoas de carne e osso, como Anésio de Oliveira, natural de Itapira (SP). Nascido em fazenda de café, aí viveu até 1939. Vinte anos depois figurava entre os primeiros associados do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Lembrou-se Anésio: “Nesse tempo, eu trabalhava na Mercedes. E eu fiz parte da fundação desse sindicato. Nesse tempo aí eu acho que o Lula ainda estava lá em Pernambuco, acho que cortando cana. Ô, se ele escutar!”
Em paralelo, assimilando gente de outros lugares, a baianada implicava que seu membro fosse um empregado braçal, geralmente não-qualificado. Paulo Fontes apurou que, na Nitro Química, os novatos logo aprendiam o “serviço dos baianos” e também eram logo apresentados à “baianada” que conferia vida e força ao ativismo sindical, na base e no topo, caso de Artur Pinto de Oliveira, natural de Caem (Jacobina) e do dirigente Adelço de Almeida.
Nos inteiramos também de detalhes da trajetória de um movimento sindical capaz de abrigar experiências que integravam a política dos partidos e do parlamento com a política do cotidiano, combinando queixas e protestos populares com a ação institucional. Ao mesmo tempo em que o operariado brasileiro se notabilizava por dar vida a uma extraordinária máquina de trabalho – o que mudou a cara do país –, havia expressivas experiências de independência e maturidade e de ampliação da cidadania, nos fazendo ver que os trabalhadores lutavam por seus direitos. Em ambos os casos, os trabalhadores de origem migrante ganharam notoriedade pelo protagonismo histórico. Se suas iniciativas nas fábricas eram combatidas por industriais e pela polícia, era porque – em poucas palavras – elas importavam.
Bibliografia
ABRAMO, Laís. O Resgate da Dignidade. Greve Metalúrgica e Subjetividade Operária. Campinas: Editora da Unicamp, 2000.
BATALHA, Cláudio; FORTES, Alexandre; SILVA, Fernando Teixeira da (org.). Culturas de Classe. Identidade e Diversidade na Formação do Operariado. Campinas: Editora da Unicamp, 2004.
FORTES, Alexandre (et al.). Na Luta por Direitos. Estudos Recentes em História Social do Trabalho. Campinas: Editora da Unicamp, 1999.
NEGRO, Antonio Luigi. Linhas de Montagem. O Industrialismo Nacional-Desenvolvimentista e a Sindicalização dos Trabalhadores. São Paulo: Boitempo, 2004.
RAMALHO, José Ricardo. Estado-Patrão e Luta Operária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
|
|
|