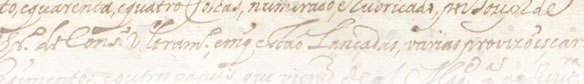|
Artigo publicado na edição nº 9 de abril de 2006.
Escravidão e liberdade nas barras dos tribunais
Adriana Pereira Campos
Os processos judiciais vêm atraindo a atenção dos historiadores há, pelo menos, duas décadas. Dentre esses autos, destaca-se um valioso instrumento de que se valiam alguns escravos para pleitear a liberdade na Justiça. Curiosamente, aqueles seres coisificados conseguiam penetrar nessa majestosa arena que enfeixava um corpo de funcionários com reconhecida, até temida, autoridade. Esses documentos guardam preciosos elementos que podem abrir as portas para o passado da escravidão brasileira e informar aspectos ainda desconhecidos dessa imbricada e mitificada realidade.
Embora, os processos de liberdade já tenham sido exemplarmente discutidos[*1], considero possível ainda tecer algumas outras considerações acerca desse espetacular movimento que se realizou nas barras dos tribunais no Brasil. A concessão jurídica da liberdade na sociedade escravista brasileira constitui um rico campo de investigação sobre a prática efetiva do Direito Civil. A instituição da alforria obteve expressão legal por intermédio da Lei do Ventre Livre. Oficializava-se assim, entre os escravos, o costume de reunir uma soma em dinheiro para a compra da liberdade: “O escravo que, por meio de seu pecúlio, obtiver meios para a indenização de seu valor, tem direito à alforria”, rezava a lei, em seu art. 4º. § 2º.. Anteriormente, entretanto, já existia um fundamento legal das alforrias baseado nas Ordenações Filipinas, livro 4º. Título 63. As alforrias eram, portanto, equiparadas às doações, pois lhes faziam a aplicação de idênticas disposições, sob a denominação geral de doações, por intermédio da qual estabelecia a regra geral contida em seu parágrafo 10.
As cartas de liberdade carregavam consigo vários sentidos além da outorga da liberdade a um escravo. Muitas vezes, tal concessão transformava-se, na letra dos documentos, em uma espécie de compromisso tácito de lealdade entre o senhor e seu escravo. A efetividade desse mecanismo exigia o cumprimento dos atos pactuados. Cabia, então, ao sistema judiciário não apenas o reconhecer, como também e, principalmente, legitimar e proteger esses atos, no caso de serem desrespeitados por alguma parte ilegítima interessada em violar a vontade senhorial.
As ações de liberdade, por sua vez, envolviam procedimentos jurídicos utilizados para a requisição da emancipação de algum cativo perante o Judiciário brasileiro da época. Os atos do processo de liberdade abarcavam grandes complexidades e sutilezas. Os aplicadores do Direito viam-se diante da difícil tarefa de equilibrar-se entre, de um lado, o reconhecimento das negociações entre escravos e senhores e, de outro, a preservação do Direito patrimonial. Um exemplo concreto desse problema nos é fornecido pelo próprio Conselho de Estado, quando, em 1853, decidiu que “não pode ser o senhor obrigado a alforriar o escravo contra sua vontade [do primeiro], mesmo dando àquele seu valor”, pois “a Constituição garante a propriedade em toda sua plenitude”.[*2] O princípio de obediência à vontade senhorial, acima referido, indica a dificuldade da tarefa dos magistrados ao enfrentarem, no cotidiano da Justiça, pleitos cada vez mais diversos e imprevistos. O reconhecimento da vontade de um senhor expressa em testamento, o descontentamento de um herdeiro com as disposições de um inventário, ou até mesmo o descumprimento de uma promessa de liberdade expressa publicamente, tudo isso criava sérios embaraços para os magistrados.
Em várias ocasiões, o aplicador do Direito precisava refletir detidamente sobre a solução a ser empregada, para que a vontade senhorial e o princípio da propriedade privada não fossem maculados. Na Comarca de Vitória/ES, Venâncio Gomes Loureiro, por exemplo, quis beneficiar com a liberdade seu afilhado Sebastião, filho de Efigênia, escrava do finado Francisco Pinto Ribeiro. O padrinho do escravo, não obtendo o consentimento do tutor e curador geral dos órfãos, requereu, em juízo, o arbitramento do valor para depósito. O Juiz encarregado avaliou o ingênuo em cinqüenta mil réis e Venâncio juntou ao processo um talão de depósito da quantia ajuizada. Em 1851, a sentença foi favorável ao pleito: “Julgo por liberto ao menor Sebastião, filho de Efigênia, escrava dos órfãos filhos do finado Francisco Pinto Ribeiro”.
Esses e outros processos depositados nos arquivos públicos do país indicam algumas pistas para a compreensão da luta travada pelos escravos. O elemento mais curioso nos processos de liberdade, não é demais ressaltar, constitui-se no fato de esses escravos possuírem recursos para cobrir o valor a cada um deles atribuído. O pecúlio, portanto, era um instrumento comumente utilizado na Comarca de Vitória, mesmo antes da Lei de 1871. Desse modo, a prática jurídica de reconhecimento desse instituto, bem como das promessas de liberdade, escritas ou não, abrangia também regiões menos populosas do Império, como evidenciado nos juizados de órfãos da Província do Espírito Santo. Nessa medida, podemos relacionar esse procedimento das instâncias judiciárias do país à cultura jurídica romana dos magistrados brasileiros. A formação romanista dos juristas proporcionava-lhes o conhecimento sobre o tradicional instituto do pecúlio proveniente da escravidão romana. A ausência de tal tradição, possivelmente, não impediria que fosse ele reconhecido judicialmente. Essa cultura legal, no entanto, permitiu ao Judiciário brasileiro a liberdade de acolher o instituto antes mesmo que uma lei ou precedente assim o determinasse expressamente sem maiores dificuldades.[*3]
Além da dimensão legal, a alforria e o pecúlio partilhavam um aspecto importante como instrumento de negociação entre senhores e escravos. Para conseguir a liberdade, o cativo precisava corresponder à lealdade esperada por seu senhor. Nos registros de noventa e duas cartas de liberdade, abrigadas no Cartório do Segundo Ofício de Vitória/ES, encontramos o recurso freqüente ao instituto do pecúlio. Em tais documentos, pode-se constatar que o escravo, para obter as somas necessárias à compra de sua liberdade, mantinha-se estreitamente ligado aos seus senhores. Por meio dessa aproximação, o cativo lograva executar tarefas envolvendo rendimentos monetários. Outras vezes, o escravo buscava um homem livre, de suas relações, que pudesse lhe adiantar o valor requerido, colocando-se, em troca, sob a proteção dessa pessoa. A Lei do Ventre Livre procurou, inclusive, legitimar tais práticas, como verificamos em seu artigo 4º., parágrafo 3º., onde lemos: “É, outrossim, permitido ao escravo, em favor da sua liberdade, contratar com terceiro a prestação de futuros serviços por tempo que não exceda de sete anos, mediante o consentimento do senhor e aprovação do Juiz de Órfãos”. Todavia, juntamente com o registro do pecúlio, constava quase sempre a preocupação do senhor em fazer anotar a benevolência de seu ato. Sob esse aspecto, as notas cartoriais de liberdade extrapolavam uma simples troca comercial. Antes, elas carregavam consigo a mensagem de retribuição ou reconhecimento aos longos anos de lealdade e submissão no cativeiro.[*4]
Todos os atos relacionados à alforria correspondiam à vontade privada do senhor. Após a promulgação da Lei 2.040, de 28 de setembro de 1871, a negociação entre o senhor e o escravo para o acerto do preço da carta de liberdade continuava privativa das partes. A intervenção da Justiça somente se justificava em caso de impasse. Os autores das ações de liberdade, contudo, não se restringiam aos termos do negócio, isto é, a discordâncias relativas aos valores e condições para a compra da liberdade. Muitas vezes, os pleiteantes procuravam incluir argumentos capazes de sensibilizar o Juiz. Entre as justificativas, encontramos a união familiar como argumento apresentado em quatro ações de liberdade. A indissolubilidade da família foi, inclusive, usada como princípio para o reconhecimento do pecúlio pela Lei do Ventre Livre, em seu o art. 4º., parágrafo 8º.: “Se a divisão de bens entre herdeiros ou sócios não comportar a reunião de uma família, e nenhum deles preferir conservá-la sob o seu domínio, mediante reposição da quota-parte dos outros interessados, será a mesma família vendida e o seu produto rateado”.
Em geral, as ações de liberdade motivadas pela preservação dos vínculos familiares tinham como protagonistas os parentes livres mais próximos ou um escravo capaz de comprovar sua condição de arrimo de família. Senão, vejamos. Em abril de 1872, a escrava Josefina, pertencente à Santa Casa de Misericórdia, requereu sua alforria por ser mãe de oito filhos menores e por contar com quase cinqüenta anos, idade avançada para a época. No mesmo mês que Josefina, Valério José da Silva requisitou a liberdade de sua esposa, invocando, além da posse de um pecúlio, o fato de ter-se casado perante a Igreja. É significativo o uso do casamento religioso nesse último requerimento, pois esclarece como os diversos símbolos de uma vida socialmente aceitável eram empregados como artifícios de convencimento do julgador.
De acordo com os processos de liberdade registrados na Comarca de Vitória, a idade tornou-se, com o tempo, um elemento importante nos pedidos de liberdade, indicando fortemente que a sociedade passara a julgar imoral a exploração dos mais velhos. Aqueles que contavam com idade superior a quarenta anos utilizavam-se disso nas petições, justificando sua debilidade para o trabalho por conta de doenças advindas da velhice. Como o limite ainda não estava colocado, verificou-se um uso indiscriminado das mais diferentes idades para caracterizar a velhice. Em março de 1872, a escrava Iria ingressou na Justiça sob alegação parecida. Além da avançada idade de 40 anos, sustentava a cativa que seus problemas gástricos e oftalmológicos, responsáveis por sua frágil saúde, eram incompatíveis com suas atividades de doméstica. Iria dizia não enxergar bem e não poder se expor ao calor constante característico de seu ofício de cozinheira. O Juiz acatou essas alegações e arbitrou um valor, condizente com as economias da escrava, para a compra de sua alforria. O pecúlio cumpria, mais uma vez, sua missão de ressarcimento da perda da propriedade, sem a qual o Judiciário teria muita dificuldade de se mover rumo à limitação dos excessos senhoriais. Em 1872, José Corrêa de Jesus ingressou em Juízo para requerer a liberdade de seu curatelado, Francisco, de 43 anos, argumentando que “como o senhor queira chegar a um acordo sobre o preço de sua liberdade, exigindo do suplicante quantia superior as suas forças e sua idade”. Em 1872, outro curador apresentou como argumento a idade do escravo Alexando que era “maior de 50 anos”.
Posteriormente, como sabemos, a Lei dos Sexagenários fixou em sessenta anos a idade máxima para a exploração de um homem como escravo, após o que a liberdade deveria ser concedida. O debate sobre esse critério, entretanto, já estava posto na sociedade e, particularmente, no Judiciário, o qual criava novas interpretações do ordenamento para julgar os casos envolvendo “idosos”. A força inovadora da jurisprudência, visando adequar as leis às mudanças na ética e na moral da sociedade, parece ter, por diversas ocasiões, antecipado o conteúdo de novas legislações.
As ações de liberdade impetradas após a vigência da Lei do Ventre Livre pertencem a uma época de crescente agitação abolicionista e de leis e decisões judiciárias indicativas da necessidade de reformas no sistema. Movidos pelo desejo, e, muitas vezes, pela necessidade de criar uma situação mais justa, os cativos exploravam com inteligência o espaço institucional disponível na busca de alternativas inexistentes na relação pessoal com seu proprietário. Atualmente, a historiografia reconhece a submissão e a subserviência como estratégias utilizadas pelos escravos para arrancar do senhor alguma vantagem.
Quando tais alternativas não alcançavam êxito, o Judiciário convertia-se numa instância de enfrentamento e desgaste da vontade senhorial. De modo geral, os escravos tentavam estabelecer, previamente, um ajuste consensual pela alforria. Apenas ocasionalmente, quando de um impasse, requisitava-se a intervenção do Juízo da localidade. Muitos magistrados, conscientes do valor de sua decisão, indeferiam imediatamente algumas petições com base em equívocos processuais ou, então, solicitavam explicações ulteriores sobre o pedido. Outras ações, contudo, prosperavam de modo a exigir uma decisão do Juiz. Embora nem todas as sentenças fossem favoráveis aos escravos, crescia, entre eles, paulatinamente, a percepção do Judiciário como um foro de pressão sobre seus senhores.[*5]
|
|
|