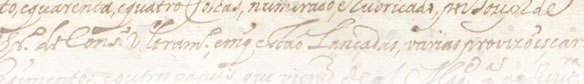|
Artigo publicado na edição nº 13 de agosto de 2006.
Questões introdutórias para uma discussão acerca da história e da memória
Fabiano Junqueira de Freitas
Paula Lou Ane Matos Braga
O debate sobre a relação entre história[*1] e memória é uma das grandes discussões teóricas que têm se imposto a várias gerações de historiadores, pois estrutura os fundamentos e objetivos do fazer histórico. A memória não pode mais ser vista como um processo parcial e limitado de lembrar fatos passados, de valor acessório para as ciências humanas. Na verdade, ela se apóia na construção de referenciais de diferentes grupos sociais sobre o passado e o presente, respaldados nas tradições e ligados a mudanças culturais. A história não pode ter a pretensão de estabelecer os fatos como de fato ocorreram, e por isso coexistem, não obstante, várias leituras possíveis sobre a utilização da memória para a interpretação da história.
A partir de uma perspectiva cronológica, a história, que tem sua gênese na Antigüidade, tradicionalmente associada a Heródoto (séc. V a.C.), apresenta-se diante de uma relação com a realidade que não é outra senão a baseada no testemunho e no relato, aspecto que se manteve sempre presente no desenvolvimento da ciência histórica, em oposição ao modelo de observação e investigação preconizado pelas ciências da natureza. “Heródoto só quer falar daquilo que viu ou daquilo que ouviu falar” (GAGNEBIN, 1992, p. 10), e redigiu a sua história “para impedir que o que os homens fizeram no tempo se apague da memória e que as grandes e maravilhosas façanhas realizadas tanto pelos gregos como pelos bárbaros percam renome” (HERÓDOTO apud SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 72).
No século XVIII, com o surgimento do pensamento iluminista, ganha corpo uma concepção da história que instaura a supremacia da razão, propaga a crença na ciência como única forma de conhecimento e conduz a verdades objetivas e absolutas, a partir da idéia de progresso. Com o estatuto de ciência que ora se estabelece, a história vivida, “natural”, deixa de ser considerada fonte segura. Construída a partir da subjetividade, a memória, portanto, não era mais confiável para a produção do conhecimento científico.
Em meados do século XX, a crença num progresso linear, contínuo e irreversível não pode mais ser sustentada, e tornam a se apresentar olhares mais críticos sobre a história, com a inauguração de um novo conceito de temporalidade colocado pelos Annales. Nesse momento se incorporam conceitos de outras ciências sociais como a filosofia e a antropologia, assim como dados da experiência individual e coletiva, inaugurando-se uma concepção do tempo a partir da observação de longos períodos, a “história de longa duração”. Incorporando as noções de tempo vivido, de tempos relativos e múltiplos em contraposição a um factualismo já insuficiente para a apreensão dos fenômenos históricos, estes serão, finalmente, problematizados em um contexto mais amplo de rupturas, transformações sociais e mudanças culturais. A temporalidade da historiografia tradicional, que compreendia os acontecimentos num espaço de tempo meramente cronológico, não seria mais suficiente para a interpretação da história: esta seria feita segundo diferentes ritmos. Em lugar do estrato superficial, mais importante seria o estudo em profundidade das realidades que mudam devagar.
Concomitantemente à perspectiva da existência de diferentes durações históricas, assiste-se também a uma intensificação do desejo de colocar a explicação no lugar da narração, ao renascimento do interesse pelo evento, pela “micro-história” e pelo desenvolvimento de uma “história imediata”. O tempo histórico encontra, com mais refinamento, o tempo da memória, possibilitando uma transversalidade que Tucídides, o pioneiro na busca de uma “verdade histórica”, desconhecia. O universal, portanto, reside agora no fragmentário, restando obsoletas as formulações deterministas ou supra-culturais.
Como corolário desses progressos epistemo-metodológicos, merece destaque a crescente revalorização da memória, tanto na esfera individual como nas práticas sociais, ao mesmo tempo em que a história convive com uma ainda insuficiente reflexão historiográfica. Mais recentemente, a partir dos anos 80, a historiografia adquire a noção de que a relação entre memória e história é mais uma relação de oposição do que de complementaridade, ao mesmo tempo em que empresta à história o estatuto de produtora de memórias. Cabe esclarecer, entretanto, que esse antagonismo privilegia a função cognitiva da memória, enquanto instrumento de conhecimento do passado. Assim sendo, novas questões se apresentam: tem a memória histórica um estatuto teórico próprio? Seria ela diferente da memória individual ou da memória literária, por exemplo?
Para além do debate literário – de que são contributivos Bérgson e Proust – , onde emerge uma relação imediata entre o tempo presente e as evocações do passado que remetem a uma subjetividade intransponível para o historiador, posto que situada na esfera do psíquico mais que no campo das realidades coletivas, uma importante questão da memória histórica dar-se-ia a partir de sua constituição à parte do terreno propriamente histórico. Postula-se, portanto, uma ruptura do monólogo da história, debruçada sobre si mesma, permitindo à problemática da memória avançar no terreno de seus impasses e da revalorização de suas práticas.
Nos meandros dessas implicações historiográficas que dizem respeito à memória, há que se garantir que a historiografia não se torne um leito de Procusto da memória, conformando-a a um campo teórico-metodológico predefinido que deixe de levar em consideração as suas especificidades de cultura em movimento. Em sua reconsideração da memória, a historiografia contemporânea estabelece com a sociologia seu diálogo preferencial, e ganham renovado interesse problemas que tangenciam a psicologia social, como a história dos ressentimentos e, extensivamente, a história do ódio e dos sentimentos. A partir de uma perspectiva originalmente nietzcheana, ampliada por autores como Scheler e Merton, Pierre Ansart levanta uma discussão que remete a novas interpretações das relações entre as classes e da história das sociedades. Em outras palavras, a questão dos ressentimentos nos coloca diante de um impasse permanente das ciências históricas: o de restituir e explicar o devir dos sentimentos individuais e coletivos. Márcio Seligmann-Silva pontua que: “a tarefa da memória deve ser compartilhada tanto em termos na memória individual e coletiva como também pelo registro (acadêmico) da historiografia” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 63).
Nesse ponto, colocam-se novas indagações: que memória o indivíduo ou o grupo mantém dos ressentimentos daquele de quem foi vítima? Ansart distingue quatro atitudes possíveis atravessando ao mesmo tempo a memória individual e as memórias coletivas: a tentação do esquecimento, a tentação da repetição, a tentação da revisão e, enfim, a tentação da intensificação da memória dos ressentimentos (ANSART, 2004, pp. 15-34).
Ao considerarmos os novos métodos, cabe particular atenção à utilização dos relatos orais na história. Colocados em questão desde a aceitação, já na própria Antigüidade, do documento como fonte formal e universalmente aceita da ciência histórica, a história oral volta a chamar a atenção dos historiadores. Novas leituras afirmam que a história oral compõe um processo ampliação de perspectivas no uso de fontes para a escrita da história, ao trazer para o âmbito do saber científico instrumentos que possibilitem ao pesquisador trabalhar com a subjetividade contida nos depoimentos, ajudando a romper com certa idealização em relação às fontes escritas existente entre os historiadores. Com a “nova história” e sua concepção de unicidade dos eventos históricos, aparece também a necessidade de aliar à explicação o relato, atentando o historiador para a existência, esquecida até o século XIX, de uma escrita da história.
Para Pierre Nora, a história é uma atividade escrita, que organiza e reúne numa totalidade sistematizada as diferenças e hiatos da memória coletiva, já que esta, sendo primordialmente oral e afetiva, fragmenta-se em uma pluralidade de narrativas. Nora contrasta, portanto, a tradição vivida da memória à sua reconstrução intelectual, a história. Conclui com uma certa provocação ao afirmar que aquilo a que chamamos hoje de memória é, na verdade história (NORA apud SEIXAS, 2004, pp. 40-1).
Com efeito, a memória coletiva sofreu grandes transformações ao longo dos tempos, fruto das contribuições ao modus faciendi da história enquanto disciplina. Dessa forma, a incorporação das ciências sociais desempenha aí um papel importante, cimentando a interdisciplinaridade entre estas, a história e a memória. A pesquisa, o registro e o retorno à memória coletiva se vale menos dos escritos que das palavras, imagens, gestos e rituais: é uma memória sobretudo simbólica. Voltando a Pierre Nora, é dele a afirmação de que, até nossos dias, história e memória praticamente se confundiram, e a história parece ter se desenvolvido “sobre o modelo da rememoração, da anamnese e da memorização” (NORA apud LE GOFF, 2003, p. 473) típico da memória coletiva. Esta nova memória coletiva consolida seu saber com os instrumentos tradicionais, porém arranjados de forma diferente. A par desses movimentos, ocorre também uma valorização dos lugares de memória, comum não só a Nora, como a vários outros historiadores contemporâneos.
No contexto dessa discussão, buscar uma definição da história enquanto ciência não é uma tarefa fácil. Paul Veyne tentou resumi-la quer como uma série de acontecimentos, quer como a narração dessa série de acontecimentos. Extensivamente, a história pode ter ainda o sentido da narração. O próprio Veyne, ao tentar esclarecer o sentido da historicidade, aceita a inclusão, no campo da ciência histórica, de novos objetos “não-eventuais”, como a história das mentalidades ou da loucura. Assim, “tudo é histórico, logo a história não existe” (VEYNE apud LE GOFF, 2003, pp. 18-9).
São leituras possíveis. Mas seria possível afirmar que a memória de um ou mais grupos sociais, incluindo tradições, culturas, políticas, passíveis de expressão em depoimentos, pode ser simplesmente entendida como história? E, em sendo assim, qual seria a distinção entre memória e história? Se pensarmos numa história construída sob a forma de uma memória manipulada e imperfeita, ainda assim não estaríamos diante de uma melhor opção que sob a forma de um saber falível e discutível que se expresse sob a designação de científico?
O desenvolvimento das sociedades na segunda metade do século XX esclarece a importância do papel desempenhado pela memória coletiva, ultrapassando a história enquanto ciência ao mesmo tempo em que revela uma luta pela continuidade dos seus símbolos como traduções de suas características mais arraigadas, constituindo elemento essencial na preservação de identidades individuais e coletivas. Este movimento vai com certeza muito além das pretensões ou da capacidade de compreensão da história formal, ainda que com os instrumentos fornecidos pela interlocução com outras ciências. Le Goff, apesar de rejeitar qualquer messianismo histórico, defende uma finalidade libertária para a memória: “A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 2003, p. 477).
Em conjunto, a totalidade das contribuições à ciência histórica ao longo dos tempos possibilitou uma leitura racional da história, com a constatação da existência de certas regularidades em seu decurso, gerando como conseqüência a suspeição de todo modelo que se pretenda único e despertando para diferenças de sentido, significado e representação das diversas sociedades humanas. Entretanto, a história não deve esquecer que as estruturas por ela estudadas são dinâmicas, aplicando certos métodos estruturalistas ao estudo de documentos históricos, não à explicação histórica propriamente dita.
Do mesmo modo, na atualidade o trabalho histórico e a reflexão sobre a história desenvolvem-se num ambiente de distanciamento e reserva diante da apologia do progresso e de possíveis fetiches ideológicos, assegurando que a produção que não guarde valor científico seja recebida sem nenhuma credibilidade pelos historiadores.
Todas estas questões constituem reflexões que se apresentam a todo o tempo ao historiador, no momento mesmo em que ele se debruça sobre seu objeto de estudo. O entendimento da memória como fonte viva da história é resultado das transformações historiográficas que ocorrem constantemente, mas que, em contrapartida, também promovem esse processo, ao propor a introdução da subjetividade na história e, ato contínuo, ao instrumentalizar um discurso historiográfico mais narrativo e humano e menos expositivo e mecanicista.
E por que hoje se discute tanto a memória, no sentido do resgate? Por que, ainda, os historiadores chamam a si a responsabilidade por estabelecer a verdade do passado? Certamente, pela historicidade presente nessa relação (presente-passado), que desafia a uma superação da problemática de uma adequação pretensamente científica entre realidade e narrativa e remete à questão mais profunda e incômoda de uma ação ética no presente. Para Seligmann-Silva, “a ética força a historiografia a repensar a sua frágil independência com relação à política e, mais especificamente, à política da memória” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 74).
Bibliografia
ANSART, Pierre. “História e memória dos ressentimentos”. In BRESCIANI, Stella & NAXARA, Márcia (org.) Memória e (res)sentimento. Indagações sobre uma questão sensível. Campinas: Ed. Unicamp, 2004. pp. 15-34.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Ed. Unicamp, 2003. pp. 7-22; 127-46; 467-77.
GAGNEBIN, Jeanne Marie. “O início da história e as lágrimas de Tucídides”. In Margem. Revista da Faculdade de Ciências Sociais e dos Programas de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais e História da PUC-SP. São Paulo: Educ, no. 1, 1992, pp. 9-28.
_______________________. “Verdade e memória do passado”. In Projeto História. Trabalhos da memória. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo: Educ/Fapesp, no. 17, novembro de 1998, pp. 213-21.
SEIXAS, Jacy Alves de. “Percursos de memórias em terras de história: problemáticas atuais” in BRESCIANI, Stella & NAXARA, Márcia (org.) Memória e (res)sentimento. Indagações sobre uma questão sensível. Campinas: Ed. Unicamp, 2004. pp. 37-55.
____________________. Razão e paixão na política. Brasília: Ed. UnB, 2002. pp. 59-77.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. “Reflexões sobre a memória, a história e o esquecimento” in SELIGMANN-SILVA, Márcio. História, memória, literatura. O testemunho na era das catástrofes. Campinas: Ed. Unicamp, 2003. pp. 59-85.
|
|
|