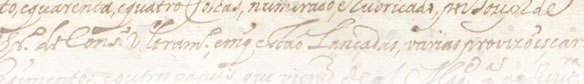|
Artigo publicado na edição nº 43 de agosto de 2010.
O tempo do caju: saberes de identidade constitutivos do patrimônio cultural
Mariana Cunha Pereira
Noeci Carvalho Messias
A ideia de escrevermos um artigo juntas surgiu quando falávamos sobre o período em que morávamos em Porto Nacional, no estado do Tocantins. Noeci, uma de nós, morou por mais tempo, a ponto de reivindicar incondicionalmente sua identidade portuense. Entre tantas histórias ali vivenciadas e sonhos compartilhados na perspectiva de construção que o movimento social nos proporciona, não tínhamos nos dado conta de que um mesmo produto era constitutivo de nossa infância. Referimo-nos ao caju, essa fruta nativa que, sorrateiramente, faz parte da história brasileira[*1]. Posteriormente ao período em que vivemos em Porto Nacional, descobrimos, por meio de uma conversa durante uma viagem[*2], o quanto existia de significativo entre nossas infâncias – Mariana, em Teresina (PI) e Noeci, em Porto Nacional (TO) – a partir daquela fruta. O que se iniciara como um diálogo sobre o “tempo do caju” servia a uma discussão de identidades e de patrimônio cultural por meio do que representa o caju na cultura brasileira e quanto, por isso mesmo, se constitui em um elemento que sutilmente passa despercebido no cotidiano do povo brasileiro.
Comentávamos sobre a pesquisa de campo de Noeci junto aos moradores da Vila Pirraça [*3] e da relação trabalho/natureza/perdas dos moradores daquele bairro após a instalação da Hidrelétrica do Lajeado, no Rio Tocantins. Uma dessas formas de trabalho informal misturava-se ao próprio modo de viver, dando significado à vida, portanto, do “tempo do caju”. Fomos transportadas a cada narrativa dos entrevistados, no exercício etnográfico que Noeci maravilhosamente realizou e naquele momento narrava.
Essa conversa nos levou a descobrir em nossas próprias histórias, de tempos e lugares distintos, que o caju também se traduz em ensinamento, superstição, proibição, trabalho, aromas e sabores, configurando modos de vida. Mariana desenvolveu um exercício etnográfico no assentamento de Terra Alvaçã, quando morou no Ceará [*4] – estado de referência desse fruto, no nordeste brasileiro –, e se deparou com a importância da produção do caju. Ali, havia lugares e gentes em que a identidade sociocultural se manifestava em torno da referida fruta. Há uma oralidade local, oriunda dos curandeiros e raizeiros, que atribui ao caju um poder curativo, protetor, purificador e defumador de ambientes, por ser considerado uma planta mágica. Essa percepção mística confere ao caju interpretações transcendentais. Há quem acredite que nossos sonhos estão relacionados a alguns significados da vida cotidiana, como o de que sonhar com caju significa tranquilidade, colher a castanha significa alegria no lar, comer castanha anuncia projetos que não se realizarão e chupar o caju significa despreocupação.
O caju não era a principal produção agrícola daquele assentamento. No entanto, via-se que, como fruto nativo, ele imperava diante dos produtos agrícolas como o milho e a mandioca, que de fato movimentavam a incipiente economia da região. Seu império parecia anunciar que o caju estava ligado a uma vocação natural da terra, como dizia um trabalhador: “antes isso aqui era um imenso cajueiral que se perdia de vista”. Nada mais natural que o costume fosse o de preservar, através do trabalho coletivo, o aproveitamento das várias possibilidades que o produto proporcionava. Naquela região, as mulheres que enfrentavam e lideravam a luta da terra também organizavam a fabricação do doce de caju e da cajuína através dos projetos sociais conquistados pela Associação dos Moradores junto a EMBRAPA – Empresa Brasileira de Produção Agrícola.
No campo do patrimônio cultural, é Aloísio Magalhães que faz uma brilhante análise sobre a riqueza desse produto. Para nós, uma das mais ricas contribuições críticas sobre o patrimônio cultural brasileiro. Aloísio salienta que o caju, além de ser uma fruta natural do Brasil, possui três predicados importantes: o de consciência histórica, isto é, a fruta é conhecida desde os primórdios da colonização até hoje; o do espaço, pois o caju abrange praticamente a maior parte do território brasileiro; e, por último, o da diversidade de usos e de produtos que derivam dessa fruta:
A diversidade de usos é tal que ele já saltou para fora do uso direto e já tem os usos simbólicos. Medidor de tempo, divisor de espaço temporal: antes e depois da chuva do caju. Você tem objetos de arte usando o caju; mobiliário com trabalhos de talha feitos com caju; pintura feita com uso do caju, poesia citando caju, literatura em torno do caju, música em torno do caju. Enfim, ele entra numa penetração multifacetada na comunidade que o configura como objeto cultural. [*5]
Essa dimensão simbólica que Magalhães acrescenta ao falar do uso em diferentes áreas do conhecimento na vida social – gastronomia, medicina, arte e literatura – nos leva a um quarto predicado, que é o cultural, posto que em todas essas esferas da vida social os seres humanos interagem produzindo cultura e reafirmam isso no uso da dimensão quase nacional da linguagem popular que cria adágios, locuções, adivinhações, apelidos, e causos. Um exemplo de adágio: “quando você ia para os cajus, eu já vinha das castanhas”; em outras palavras, significa que quem está dizendo este adágio costuma ser antecipado em qualquer situação. Ou mesmo a adivinhação: “O que é que tem o caroço do lado de fora? O caju.”
É esse aspecto simbólico recuperado por Magalhães (1997) que fez o recorte identitário entre nossas lembranças e que se atualiza na análise sociocultural das narrativas dos sujeitos sociais de nossas pesquisas em Porto Nacional (2004) e no Ceará (1988).[*6]
Em Teresina, no Piauí, ou em Porto Nacional, no Tocantins, em um mesmo período de nossas infâncias, vivíamos no cotidiano os ensinamentos dos adultos quanto às permissões e proibições de como lidar com o caju. Em ambos os estados citados, que por sinal estão em regiões diferentes, nordeste e norte, respectivamente, vê-se a veracidade das palavras de Aloísio Magalhães. Aprendíamos que não deveríamos deixar o sumo ou caldo da fruta cair na roupa, pois, do contrário, surgiria uma nódoa muito escura deixando a roupa inutilizada para o uso. Tal recomendação, às vezes feita com carinho e por muitas vezes como “retranca” de uma mãe cuidadosa, também estava acrescentada de uma superstição, ou, melhor dizendo, de um conhecimento popular que anunciava ser a nódoa passageira: “a mancha na roupa fica apenas enquanto durar o tempo do caju”, diziam os mais velhos.
Entretanto, pensar o caju como objeto de estudo para falar do patrimônio cultural brasileiro não constitui novidade, pois já houve um esforço nesse sentido. Magalhães, na condição de diretor do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), deu grande apoio e atenção ao estudo multidisciplinar do caju. O CNRC [*7] começou a funcionar em 1975, sendo incorporado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1979. O Centro tinha como objetivo estudar e documentar as formas de vida e atividades pré-industriais brasileiras em desaparecimento. Era uma forma de valorização das raízes populares, formadoras da identidade nacional:
[...] vasta gama de bens – procedentes do fazer popular – que, por estarem inseridos na dinâmica viva do cotidiano, não são considerados como bens culturais nem utilizados na formulação das políticas econômica e tecnológica. No entanto, é a partir deles que se afere o potencial, se reconhece a vocação e se descobrem os valores mais autênticos de uma nacionalidade. [...] Então essa riqueza na relação homem-natureza é, a meu ver, muito bem configurada no caso do caju. E faz com que ele seja verdadeiramente um objeto de estudo muito importante.[*8]
Estamos de acordo com o autor quando estabelece a relação entre cultura e identidade nacional a partir das raízes populares. Citamos, até aqui, estilos de vida e procuramos desenhar, com nossas memórias e com os depoimentos de pesquisas, o saber popular que nos fazem conhecedoras do jeito de ser brasileiro, portanto, da rica cultura imaterial que constitui nosso patrimônio cultural.
Embora tenhamos nos reportado a dados históricos e geográficos que nos fazem perceber a historicidade dessa fruta aqui apresentada desde o Brasil colônia até os dias atuais, no quesito espacial, que vai do estado do Ceará até o Tocantins, o que mais nos chama a atenção é a dinâmica cultural que compreende o tema. DaMatta (1998), discutindo identidade no Brasil, faz a distinção entre comida e alimento e interpreta que, em nossa cultura, há relação entre o ato de comer e as situações e processos do bem estar individual e do convívio sócio-cultural.
Recordamos a interpretação desse autor com relação à proibição inserida no dito popular: “caju quente dá dor de barriga”. Na verdade, não sabemos, até hoje, se isso ocorre – nunca ousamos experimentar. Mas, com a ajuda de DaMatta, entendemos que se escondia por trás daquela proibição uma construção cultural que diferencia comida de alimento. O “caju quente”, de que nos falavam os adultos, é aquele retirado do pé nas horas em que o sol está mais intenso, geralmente no horário do almoço. Aí está o motivo da proibição; esse é o horário do alimento. Na explicação do autor, o “alimento é tudo aquilo que pode ser ingerido para manter uma pessoa viva; comida é tudo que se come com prazer, de acordo com as regras mais sagradas de comunhão e comensalidade”[*9]. Por conseguinte, traduzindo para o ensinamento cultural brasileiro, horário de almoço é para se alimentar, e não para se viver o lúdico momento de comer (ou chupar) [*10] caju, embaixo do cajueiro. Segundo DaMatta, o ato de comer como algo simbólico, consiste em “algo muito mais refinado do que o simples ato de alimentar-se.” O autor reforça a outra perspectiva – a de comer –, também relacional, interativa e não menos cultural, quando diz: “[...] comida se refere a algo costumeiro e sadio, alguma coisa que ajuda a estabelecer uma identidade, definindo por isso mesmo, um grupo, classe ou pessoa.”[*11] Nesse segundo sentido, estavam, portanto, as proibições de chupar ou comer caju quente embaixo do pé, no horário de meio dia, profundamente adequado à nossa condição de criança e adolescente amante do lúdico e do prazer. O ato de chupar ou comer caju não era para nós uma ação a ser praticada por uma só pessoa, não impunha nenhum processo de reflexão das consequências, nem, muito menos, às regras de etiquetas exigidas ao jeito de portar-se à mesa. Presumia-se, pelo menos, a presença de outra pessoa que ajudasse na coleta da fruta: enquanto uma sobe no cajueiro, a outra apara o fruto colhido.
Há outro momento imprescindivelmente coletivo: o ato de assar as castanhas-de-caju. Em nossas memórias, recordamos esse evento. Durante a quebra da castanha assada, faz-se um enorme círculo de pessoas (homens, mulheres e crianças) sentadas no chão ou em pilotes de madeira ou pedras. Manhãs ou tardes inteiras são dedicadas a essa atividade, que pode servir ao prazer de se ter o fruto para o consumo ou para a comercialização. Em ambas as situações, há um intenso processo de interação, de trocas de informação, de sociabilidades e de brincadeiras jocosas entre os participantes.
Nesse sentido, queremos retratar o caju como elemento aglutinador da vida sociocultural ao mesmo tempo em que, simbolicamente, sugere a divisão do tempo: “antes ou depois das chuvas do caju”, e/ou marcador de limites entre terras: “após o cajueiro, na segunda curva, é terra de fulano”. Além desses exemplos, temos notícias históricas de seu papel ou funções ainda no período colonial. Magalhães cita Gabriel Soares de Souza, que, no Tratado Descritivo do Brasil, descreveu as funções medicinais dessa fruta que:
[...] os Tupinambá ingeriam antes das refeições, que os soldados e marinheiros holandeses tomavam para combater o sangramento das gengivas (o escorbuto), o que os índios usavam para fazer saborosos vinhos de mesa, que os diabéticos usavam para equilibrar o açúcar no sangue (o caju é hipoglicêmico). [...] A castanha tem imensa quantidade de proteína. [*12]
Nessa mesma perspectiva, Elzenir Colares (1997) afirmou que comerciantes de negros e os senhores de engenhos se utilizavam também das qualidades profiláticas desta planta para cuidar dos escravos. Após a longa travessia oceânica, os negros se conduziam até os cajueirais praieiros e depois de dois ou três meses regressavam curados.
Atualizando os efeitos dessa funcionalidade histórica e do papel sociocultural que retrata a relação homem-natureza, retomamos o exemplo de Porto Nacional, onde o caju é um bem de uso coletivo, tanto quanto era o rio Tocantins naquela cidade . Ambos, bens culturais desenraizados no processo de implantação da hidrelétrica. Deixemos que nos falem, agora, os moradores da Vila Pirraça [*13] para configurar o que é um bem cultural:
Lá na Pirraça, a gente não ficava parado. As crianças eram colhendo caju, era embaixo do pé de manga, era assando castanha-de-caju, pescando, era catando murici. Sempre tinha uma coisa para fazer. Aqui na cidade eles não tem o que fazer.
Também nos dizia outra moradora da Vila Pirraça que hoje em dia, quando chega o tempo do caju, seus filhos reclamam e pedem para voltar a morar no antigo lugar, pois lá eles saíam pelo cerrado para colhê-los, assim tinham o que fazer e, muitas vezes, ajudavam no sustento da casa. Percebe-se, com esses depoimentos, que a relação com a natureza constrói vínculos socioculturais, os quais as mudanças bruscas abalam dolorosamente, configurando-se em perdas e baixa estima.
Um fato marcante na cidade de Porto Nacional, que é percebido nos depoimentos, é a relação intrínseca dos portuenses com o caju. A região é profundamente fértil para o fruto. Dificilmente há uma casa, naquela cidade, que não tenha em seu quintal pelo menos um cajueiro. Os quintais, ao longo das margens do rio, são repletos de cajueiros. A intensidade dessa relação é expressa na fala dos depoentes, como a de uma moradora, ao lembrar: “Quando era nesse tempo [mês de agosto] assim eles saíam pelo mato para colher caju”. Eles falam de um cotidiano – entendido como patrimônio cultural – que se perdeu[*14] ; a tradição local sofreu uma interdição, pois não há dúvidas de que esses passeios pelo cerrado, para colher frutas, eram intensos de significados.
Outro bem cultural, além do rio, que também está associado ao caju e é constitutivo das perdas dos moradores de Porto Nacional, é o Coreto, situado no centro-histórico da cidade, que também foi destruído devido à construção da hidrelétrica. Ali era um lugar de memória em que o caju se fazia presente por meio dos licores, dos doces e dos pequenos desenhos da fruta bordados nos panos de prato vendidos no bazar[*15] . Para além disso, no período da temporada de caju, a cidade possui um cheiro peculiar que também marca a sua identidade. Em Porto Nacional, há o cheiro de caju nas suas mais variadas formas: nas flores, na fruta amadurecida, nas castanhas assadas pelas crianças e adultos, no feitio do doce, na fermentação dos licores. Com a formação do lago e a destruição do Coreto e de casas com seus quintais, inúmeros cajueiros foram arrancados, configurando uma perda inestimável desse patrimônio, uma vez que a cidade foi espoliada no que diz respeito ao seu aroma identitário[*16] .
É nesse sentido que entendemos um bem cultural, e aqui reivindicamos para o caju esse status. Na perspectiva histórica, o caju desafia o limite da relação natureza/cultura, posto que tem uma representação no processo histórico do país. No aspecto científico das ciências da natureza, ele é o Anacardium occidetale que se compõem de três partes: o pseudofruto, rico em vitamina C, açúcares, fibras e água; o fruto (castanha) composto do ácido anacárdico e a amêndoa (semente) que contém o óleo fixo, proteínas e sais minerais. Mas é, também, a fruta que, em época certa, espalha seu cheiro entre lavrados, cerrados e caatingas, que no período colonial fez os índios Tupinambá, recuados do litoral, retornarem naturalmente em busca do produto. “Eles voltavam naturalmente, intuitivamente, em busca de um produto que sabiam necessário ao seu equilíbrio biológico.”[*17] Além disso, as crianças da Vila Pirraça, mesmo aquelas que ainda não aprenderam a cronologia do tempo em meses e ano, sentem, e percebem o tempo de irem ao cerrado colher caju. É preciso ajudar a mãe a encher bacias com o caju, porque, da venda da fruta, comida pronta da natureza, sairá a compra do alimento. A identidade se manifesta por símbolos e a construção identitária se faz com essas representações regionais. No caso do caju, já falamos que a identidade se constrói pelo seu uso como marcador de tempo; de limite geográfico; de denúncia da desobediência infantil, marcada pela nódoa na roupa ou pela queimadura na pele, devido ao contato com a castanha da fruta.
Por fim, gostaríamos de recuperar o ditado popular que expressa fé e credibilidade e anuncia às mulheres e crianças, vendedoras de caju – em especial aos moradores de Porto Nacional – que padeceram com a destruição dos bens culturais provocado pelos interesses capitalistas que: “o sofrimento passa assim como se apaga a nódoa de caju”. Será?
Bibliografia
ALMEIDA, José Inácio Lino de et al. Produtor de Caju. Fortaleza: CENTEC, 2002. (Cadernos Tecnológicos).
COLARES, Elzenir. O caju no folclore cearense. In: CARVALHO, Anya Ribeiro de; TELES, João Augustinho (Orgs.). Caju: negócio e prazer. Fortaleza: SETUR, 1997.
DAMATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; IPHAN, 1996.
IPHAN. O Registro do Patrimônio Imaterial: dossiê final das atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. 2. ed. Brasília: MinC; IPHAN, 2003.
LEITE, João de Souza. A Herança do Olhar: o design de Aluísio Magalhães. Rio de Janeiro: Artviva, 2003.
MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo?: a questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Fundação Roberto Marinho, 1997.
MESSIAS, Noeci Carvalho de. Patrimônio Cultural: entre o tradicional e a modernidade com a chegada da hidrelétrica de Lajeado, Porto Nacional/TO. 2004. Dissertação (Mestrado em Gestão do Patrimônio Cultural)– Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia da Universidade Católica de Goiás, 2004.
PEREIRA, Mariana Cunha. Trabalho e Formação Política da Trabalhadora Rural Cearense: a prática educativa das mulheres do assentamento de terra Alvaçã- Goiabeiras. Apresentado no X Encontro de Pesquisa do Nordeste. Fortaleza: Ceará, 1997. Mimeo
|
|
|